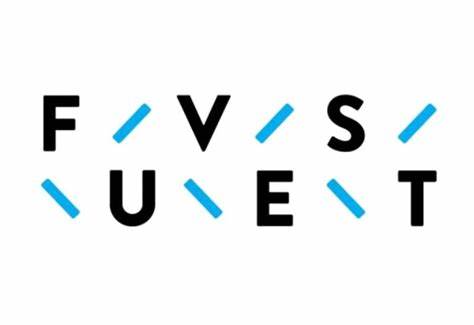
Questão 2 Fuvest 2024 - 2ª fase - dia 2
Ao estudar a transição do Império para a República, o historiador José Murilo de Carvalho assinalou uma série de tensões entre as bases sociais e as estruturas políticas do novo regime:
“Em frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ser protagonista dos acontecimentos, assistira a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar”.
José Murilo de Carvalho. Os bestializados. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 9.
a) O que significa a expressão “bestializado”, empregada no excerto?
b) Por que razão o excerto utiliza a imagem da “parada militar” para se referir à proclamação da República?
c) Cite e caracterize um evento rural ou urbano que tenha exposto o cenário de tensão social das duas primeiras décadas do regime republicano.
a) A expressão "bestializado" foi utilizada pelo jornalista republicano Aristides Lobo (1838-1896) para se referir à pouca participação popular no momento em que a república foi proclamada no Brasil, no dia 15 de novembro de 1889. Essa citação de Lobo foi resgatada pelo historiador José Murilo de Carvalho (1939-2023) em seu clássico Os Bestializados (1987), que aborda a formação da república e os diferentes projetos republicanos que marcaram o final do século XIX. De acordo com a definição dicionarizada, a palavra "bestializado" significaria "embrutecido, animalizado". Porém, no sentido empregado por Aristides Lobo e aludido por José Murilo de Carvalho, o termo se refere à exclusão da população em geral do processo de instauração da república, de forma que os futuros cidadãos da república teriam assistido ao processo "bestializados", ou seja, espantados, sem compreender o ocorrido, embasbacados, inferiorizados e excluídos do evento histórico.
b) A escolha pela imagem da "parada militar" aparece como referência aos meandros do processo de proclamação da república, que foi capitaneado pelo Exército brasileiro, influenciado pelo cenário da crise imperial e por um conjunto de ideais positivistas que representavam um dos projetos de república que circulavam pelo Brasil da época. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou suas tropas e, encaminhando-as para o Paço Imperial, procedeu à deposição do imperador D. Pedro II e deu os primeiros passos para a instalação do governo provisório republicano. Dessa forma, boa parte da população e dos setores não pertencentes às Forças Armadas - muitos dos quais se engajavam nos debates políticos sobre o republicanismo, principalmente em um cenário em que o império já estava em crise - apenas assistiu à movimentação, como se fosse uma parada militar de rotina. Após a proclamação, a presença do Exército ainda seria marcante nos primeiros governos republicanos, tanto que o período foi conhecido como República da Espada (1889-1894), composto pelos governos do Marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891) e do Marechal Floriano Peixoto (1891-1894).
c) Dentre os movimentos que podem ser citados como eventos que expressaram as diversas tensões sociais das duas primeiras décadas da república, podem ser mencionados:
Movimentos rurais:
- Cangaço: presente no Nordeste brasileiro entre as décadas de 1870 e 1940, o cangaço é muitas vezes identificado como um exemplo de banditismo social, ou seja, um movimento que incluía a prática de crimes ligados à questão social e política regional, principalmente aos fatores relacionados à miséria e à concentração de poder nas mãos dos chamados coronéis, que possuíam controle territorial e político de diversas localidades. O cangaço consistia na formação de bandos que praticavam saques e ataques a fazendas e cidades. O bando mais conhecido foi o constituído por Virgulino Ferreira da Silva (o Lampião) e Maria Gomes de Oliveira (Maria Bonita);
- Guerra de Canudos (1896-1897): Em um contexto de penúria social no campo, surgiram uma série de movimentos messiânicos, que pregavam a vinda de um salvador. Um dos principais representantes do messianismo no Brasil foi Antônio Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, que peregrinava pelo Nordeste e começou a ser venerado por suas pregações. Em 1893, Antônio Conselheiro estabeleceu-se no interior da Bahia e fundou na fazenda de Canudos uma comunidade rural (arraial). Milhares de seguidores do Conselheiro chegam à região, criando uma comunidade autossuficiente organizada em forma de mutirão. A experiência de Canudos desagrada aos latifundiários, que poderiam perder poder e funcionários, e ao clero, que temia o afastamento dos fieis. Antônio Conselheiro fazia críticas à república e atacava a separação entre Igreja e Estado, o que fez o governo central tratá-lo como monarquista. Para conter a propagação de suas ideias e a prática agrária autônoma de Canudos, organizaram-se expedições militares à região. Após três expedições do governo derrotadas, a quarta expedição teve sucesso e devastou o arraial. Os poucos sobreviventes foram feitos prisioneiros e Antônio Conselheiro morreu doente antes da devastação de Canudos.
Movimentos urbanos:
- Revolta da Vacina (1904): O início da República Oligárquica foi marcado por aumento populacional e pela formação de centros urbanos, que expunham a desigualdade social e econômica do país. Desde o século XIX projetos de reformas urbanas circulam pelos debates urbanísticos. O caso mais famoso foi a reforma parisiense empreendida pelo Barão de Haussman, que serviu de modelo para o presidente Rodrigues Alves (1902-1906) e para o prefeito Pereira Passos empreenderem a reforma do Rio de Janeiro. A reforma propunha construir aquedutos, criar rede de esgoto, calçar as ruas, aterras pântanos e abrir avenidas. Para isso, desapropriou e demoliu cortiços e prédios antigos no centro (“o bota-abaixo”). A alta incidência de epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola fez com que o projeto de Rodrigues Alves e Pereira Passos também contasse com um braço higienista, capitaneado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Como diretor de saúde pública, Oswaldo Cruz organizou as brigadas de mata-mosquitos, agentes que chegavam a invadir residências para eliminar vetores de doenças. Em 1904, foi instituída a vacinação obrigatória contra a varíola, sem nenhuma campanha informativa sobre sua importância, o que gerou uma rebelião popular conhecida como Revolta da Vacina, na qual a população ergueu barricadas e trocou tiros com a polícia. Houve dezenas de mortos, feridos e presos.
- Revolta da Chibata (1910): No Rio de Janeiro, em 1910, um grupo de 2300 marinheiros revoltou-se contra a punição de um marujo com 250 chibatadas, dando início à Revolta da Chibata. Liderados por João Cândido (“O Almirante Negro”) e Francisco Dias Martins, os revoltosos tomaram navios de guerra e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Pediam aumento do soldo, melhor alimentação, anistia aos rebeldes e o fim dos castigos físicos. As exigências dos marinheiros foram aceitas e os rebeldes se renderam, mas a promessa de modificações na Marinha não foi cumprida, o que motivou um segundo levante, que terminou com o governo prendendo todos os participantes. Alguns foram deportados para a Amazônia e outros morreram na prisão. Dois anos depois, João Cândido, Dias Martins e mais sete sobreviventes, todos expulsos da Marinha, foram julgados e absolvidos.
Obs.: como o comando da questão frisa que os eventos citados devem ser expressivos das tensões nas duas primeiras décadas do regime republicano, foram considerados, para a resolução, apenas movimentos presentes entre os anos de 1889 e 1910, ou seja, a última década do século XIX e a primeira do século XX; dessa forma, eventos comumente citados quando se exploram as tensões sociais da República Velha, como a Guerra do Contestado (1912-1916) e a Grande Greve Geral de 1917, não estariam inclusos. De qualquer forma, a caracterização dos movimentos encontra-se a seguir, como forma de complementação à discussão sobre o período.
- Guerra do Contestado (1912-1916): Na região entre Paraná e Santa Catarina um extensa área foi concedida pelo governo à empresa estadunidense Brazil Railway Company, para a construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo a Porto Alegre. Como a área era disputada pelos dois estados, recebeu o nome de Contestado e foi o mote para a Guerra do Contestado. Com o início das obras da ferrovia, indígenas e camponeses miseráveis foram expulsos da região e, com a conclusão da ferrovia, a companhia demitiu boa parte dos empregados e passou a explorar madeira, desalojando pequenos proprietários. Os prejudicados pela empresa reuniram-se em torno do beato José Maria, um líder messiânico. Tropas do governo central e de latifundiários locais foram enviadas para expulsá-los. Mesmo após a morte de José Maria no conflito, a mobilização continuou e só foi derrotada depois de quatro anos de luta.
- Grande Greve Geral de 1917: Com o desenvolvimento industrial e urbano, iniciou-se a formação de uma burguesia industrial urbana e consolidou-se o operariado, representados em diversos bairros operários nas cidades, habitados majoritariamente por imigrantes estrangeiros. As condições de trabalho dos operários eram precárias, com baixos salários, jornadas muito longas, inexistência de benefícios, ambiente insalubre, trabalho infantil. Em contraposição a isso, surgem as primeiras associações operárias, inspiradas nos movimentos socialistas e anarquistas da Europa. As reivindicações do movimento operário direcionavam-se tanto a questões imediatas como melhores salários e regulamentação do trabalho quanto a debates estruturais como a crítica à sociedade capitalista. A luta por uma jornada de oito horas levou a uma greve expressiva em São Paulo em 1907, que atingiu vários setores e se espalhou por outras cidades como Santos, Ribeirão Preto e Campinas. Em 1917, houve a chamada Grande Greve Geral de 1917, também iniciada em São Paulo e que contou com conflitos e repressão violenta aos grevistas.